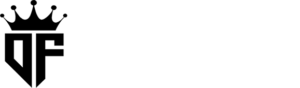Distorção de ego de Lula e Bolsonaro dificulta renovação política, diz Sergio Fausto
 Foto: Iara Morselli/Estadão Conteúdo
Foto: Iara Morselli/Estadão ConteúdoSergio FaustoDiretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso
Líderes políticos costumam ter uma visão distorcida de si mesmos, o que dificulta o surgimento de novas lideranças. Esse é exatamente o problema que o Brasil enfrenta hoje, avalia o diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso, Sergio Fausto. Em entrevista à Coluna do Estadão, o cientista político ressalta que a dificuldade do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em se desapegar do poder representa um obstáculo à renovação política no País.
“Qual é a discussão que um líder político mais detesta? É a discussão sobre a sua sucessão. Líderes políticos têm uma distorção do ego. A ideia de que serão substituídos é um enorme problema”, diz Fausto. “Para a grande maioria dos líderes políticos, a política é tudo. Sair da política é uma morte existencial. O sujeito resiste. É preciso mexer nas regras de permanência no poder, de tal maneira que se force uma rotação maior”.
Para o diretor-geral da Fundação FHC, apenas a partir das eleições gerais de 2030 – quando tanto Lula quanto Bolsonaro provavelmente não disputarão a Presidência – o Brasil começará a vislumbrar novas lideranças nacionais. Isso, no entanto, não significa que ambos deixarão de exercer influência sobre o processo eleitoral. “Os personagens desaparecem, mas a divisão política que se cristalizou na sociedade pode perdurar”, afirma.
Essa nova liderança precisará ter habilidade de comunicação, especialmente nas redes sociais, o que, na visão de Fausto, exige autenticidade. Para ele, o eleitor quer se identificar com o candidato. Também é fundamental saber dialogar com públicos diversos. “Não dá para falar só com uma bolha. O candidato precisa ter uma âncora firme num campo, mas saber transitar por outras áreas do eleitorado”.
Confira a seguir os principais trechos da entrevista. A íntegra estará disponível a partir da próxima quarta-feira, 16, no vodcast Dois Pontos, no canal do YouTube do Estadão.
Pesquisa recente da Quaest mostra que dois em cada três brasileiros defendem que Lula não dispute a reeleição em 2026 e que Bolsonaro, que está inelegível, abra mão do discurso de que será candidato para apoiar outro nome. Há espaço para o surgimento de uma nova liderança já em 2026?
A menos que algo inesperado aconteça, há apenas um candidato no campo da esquerda: o próprio presidente Lula, candidato à reeleição. No campo da direita, tudo indica que Bolsonaro não poderá ser candidato. Coloca-se, portanto, a questão: quem será o nome apoiado por ele? Mais importante do que isso é o nível de aproximação ou distanciamento que esse candidato da direita poderá ter em relação ao Bolsonaro. Pode ser que, já em 2026, não desapareça a polarização que marca o Brasil desde 2018, mas que ela assuma uma nova feição — uma espécie de nuance diferente, sobretudo no campo da direita. Mas isso depende, fundamentalmente, da resposta a uma pergunta central: que grau de autonomia esse novo candidato poderá ter em relação ao Bolsonaro e ao bolsonarismo?
Pensando na eleição de 2030, você já enxerga uma mudança geracional, considerando que nem Lula nem Bolsonaro devem disputá-la?
É provável, com o afastamento certo do Lula e muito provavelmente também do Bolsonaro. Mas eu queria sustentar a hipótese de que, muitas vezes, os personagens desaparecem, mas a divisão política que se cristalizou na sociedade pode perdurar. Temos um exemplo histórico no Brasil: a polaridade Getúlio vs. anti-Getúlio, que começa com o Estado Novo, por volta de 1937, e vai até 1964, sendo que Getúlio morreu em 1954. É um período muito longo, e não dá para entender a política brasileira daquele tempo sem considerar essa polaridade.
As características do mundo atual indicam que a repetição de um fenômeno como esse é improvável. Hoje, os ciclos são mais rápidos. Então, é provável que, em 2030, a gente esteja virando uma página. Isso não significa que as novas lideranças não buscarão se conectar com o passado, a política nunca é apenas presente, ela envolve também o passado e o futuro. No campo da esquerda, a marca do lulismo deve permanecer por muito tempo como uma referência importante. No caso do Bolsonaro, também. Embora eu acredite que o lulismo tenha um enraizamento social e uma profundidade histórica maiores, foi o Bolsonaro quem, pela primeira vez desde o fim da ditadura, permitiu que a direita colocasse a cara para fora.
Para que um novo líder surja e se consolide, ele precisa necessariamente ser carismático? Precisa representar claramente um desses campos, esquerda ou direita?
Queria deslocar um pouco essa discussão. Um líder que se apresente apenas como um bom gestor não vai muito longe, especialmente em momentos de insatisfação com o chamado “sistema” – seja o sistema político, o sistema econômico, ou ambos. Há a percepção de que o jogo está viciado, que foi capturado por uma elite. Então, quem se apresenta apenas como alguém eficiente tem pouco apelo. Há uma demanda por mudança do sistema. A narrativa do “sou gestor” não leva ninguém a ser competitivo. É claro que a competência é importante, mas não é suficiente. É preciso se associar a valores que tenham tração na sociedade.
A esquerda precisa traduzir o valor da justiça social como sua estrela guia. E precisa marcar essa posição. O governo Lula, nessa situação recente em torno do IOF, por exemplo, estava com dificuldade de encontrar uma marca. E, ainda que de forma não planejada, surgiu a oportunidade de se agarrar à bandeira da justiça social, da justiça tributária. Muita gente criticou, disse que a estratégia era oportunista. Mas ela tem um mérito: marca uma posição. A direita tem seu discurso do empreendedorismo, dos valores tradicionais da família. Veja: estamos falando de valores. Sem candidatos que saibam encarnar esses valores, a política não se move.
Olhando para frente, o novo líder precisa encarnar valores, mostrar capacidade de entrega, mas só isso não basta. Ele precisa dominar a linguagem das redes. Não voltaremos ao tempo dos discursos longos e elaborados, do grande debate parlamentar.
Hoje, você vê alguém que já consiga mobilizar essas qualidades? Alguém que encarne esses valores, seja da justiça social ou do empreendedorismo?
A política é extremamente dinâmica. Quatro anos é uma eternidade. Por isso, não tenho enfatizado personagens específicos, eles podem mudar muito rapidamente. Os governadores são quadros importantes da direita hoje. O futuro da direita provavelmente passa por esses mais jovens. Mas, insisto, ainda é muito cedo para dizer quem serão os protagonistas de 2030.
Vamos fazer um exercício. Imaginando que somos uma empresa de recrutamento e abrimos uma vaga para um líder que concorra à Presidência em 2030: que requisitos deveriam constar no “currículo ideal”?
Está claro que o candidato precisa ter capacidade de comunicação. Isso sempre foi essencial na política. No passado era o rádio, depois a televisão. Hoje, são as redes sociais. E as redes sociais exigem autenticidade. O eleitor quer se identificar com o candidato. Isso tem a ver com uma mudança na sociedade brasileira, que ficou menos hierarquizada. Aquele sentimento de deferência ao “doutor”, ao jurista, ao político, praticamente desapareceu.
Então, a identificação é essencial. Lula tem isso. Bolsonaro também. Entre os mais jovens, o João Campos tem isso. Também é importante saber falar com públicos diferentes. O próprio Bolsonaro, em 2018, não falou apenas com seu núcleo duro, conseguiu dialogar com um público mais amplo. O Brasil é muito heterogêneo. Não dá para falar só com uma bolha. O candidato precisa ter uma âncora firme num campo, mas saber transitar por outras áreas do eleitorado.
E, por fim, entra o tema da competência, medida pela capacidade de entrega. Quem tem experiência administrativa com resultados tangíveis, seja em governo estadual ou prefeitura, tem uma vantagem nesse processo de “contratação” eleitoral.
O sistema partidário brasileiro favorece ou dificulta o surgimento de novas lideranças?
A resposta é ambivalente. Por um lado, dificulta porque muitos partidos são dominados por oligarquias que controlam os fundos partidários e não têm interesse na renovação. Por outro lado, dependem da renovação para sobreviver. Figuras como Nikolas Ferreira, de um lado, ou o sobrinho da Dilma (Pedro Rousseff, eleito vereador em Belo Horizonte em 2024), de outro, conectam os partidos com novas vibrações da sociedade.
A política brasileira é pouco orientada pelas siglas, isso abre espaço para lideranças surpreendentes. Veja o caso do Bolsonaro em 2018: entrou no PSL poucos meses antes do prazo de filiação, tinha segundos na televisão e foi eleito presidente. Então, apesar de suas distorções, o sistema não impede a renovação. Mas há uma diferença: em países com partidos mais estruturados, eles funcionam como escolas de formação política. Quando os candidatos chegam à arena eleitoral, têm bagagem, compreensão do sistema. Aqui, muitas vezes, temos influenciadores e celebridades, o que cria outro tipo de dinâmica.
Pensando na renovação de lideranças até 2030, como deve ser a atuação dessas figuras no cenário de 2026?
Elas não podem ser figuras de proa, tentar roubar o protagonismo de quem hoje o exerce, despontar no cenário político com muita ambição e uma perspectiva clara de poder: “eu serei o candidato desta ala do eleitorado em 2030”. Quem age assim se expõe ao ataque não só dos inimigos, mas também da turma do próprio lado. Um erro típico desse tipo? João Doria. Foi com muita sede ao pote.
Então, é preciso ter alguma visibilidade sem tentar roubar o protagonismo, e manter uma certa linha de coerência. Aqui não estou fazendo juízo de valor. Ziguezague na política não funciona. O eleitor não se orienta por siglas partidárias, mas é capaz de perceber se o candidato age de forma inteiramente oportunista, guiado apenas pelas próprias ambições, ou se tem alguma adesão a determinadas linhas políticas, valores, etc.
Existe uma dificuldade, talvez histórica, dos partidos e das lideranças em promover a sucessão?
Qual é a discussão que um líder político, digamos, mais detesta? É a discussão sobre a sua sucessão. Líderes políticos têm uma distorção do ego. E, portanto, a ideia de que serão substituídos é um enorme problema. Eles, consciente ou inconscientemente, trabalham para que essa substituição seja adiada. Vejam o caso patético do Joe Biden, que se lançou à reeleição já estando num estágio, digamos, relativamente avançado de deterioração das suas capacidades cognitivas. E um partido organizado, como é o Partido Democrata, não conseguiu impedi-lo de prosseguir naquela aventura desmiolada por um longo período. Esse é um problema da política.
Acredito que a maneira de resolver – se é que existe uma – é criar instituições partidárias, regras dentro dos partidos, que permitam e até forcem essa rotação, essa substituição. Desse ponto de vista, as regras sobre a possibilidade de reeleição também são importantes. Não apenas dentro dos partidos, mas na política de forma mais ampla. Acho saudável, por exemplo, a regra americana no caso das eleições presidenciais: dois mandatos consecutivos, ou dois mandatos não consecutivos. Depois, vai cuidar dos netos, vai se projetar como outra figura pública relevante, mas como um ex-presidente. Agora, nenhum líder político faz isso por altruísmo, por boa vontade ou porque acha bonito. Líder político gosta do poder e quer exercê-lo até não poder mais.
Uma exceção, só para um comentário rápido: o presidente Fernando Henrique terminou seu segundo mandato já tendo deliberado internamente que não voltaria à política. É a exceção que confirma a regra. Por quê? Porque ele era um intelectual que construiu seu prestígio fora da política. Então, ele pôde retornar a esse lugar original, agora engrandecido pela passagem pelo poder. Mas, para a grande maioria dos líderes políticos, a política é tudo. Sair da política é uma morte existencial. O sujeito resiste. E aí, de fato, é preciso mexer nas regras de permanência no poder, de tal maneira que se force uma rotação maior.
Bing News